ARÁBIA - Conto de James Joyce
ARÁBIA
James Joyce
(1882 – 1941)
(1882 – 1941)
A obscura rua de
North Richmond era bastante sossegada a qualquer hora, exceto quando a meninada
saía do Chistian Brother’s School. Num dos extremos, ficava uma casa desabitada
de dois andares; os outros prédios, conscientes das vidas respeitáveis que neles
decorriam, defrontavam-se com ar imperturbável.
O primeiro
inquilino que a nossa casa teve foi um padre que morreu numa sala dos fundos. O
ambiente, em todos os quartos, estava impregnado de um odor bolorento por terem
permanecido fechados durante muito tempo. O de guardados, ao lado da cozinha,
achava-se literalmente cheio de papéis velhos, de jornais e livros. Entre
estes, encontrei alguns de páginas dobradas e úmidas: “O Abade”, de Walter
Scott [1], “O Comungante Piedoso” e as
“Memórias” de Vidocq[2] . Gostava mais deste último
pelo fato de ter ele folhas amareladas. O quintal, inculto, que havia atrás da
casa, tinha uma macieira no centro e alguns arbustos plantados ao acaso.
Debaixo de um deles foi que achei a bomba que pertencera à bicicleta do
inquilino anterior — sacerdote deveras benemérito que deixara em testamento, a
instituições de caridade, todo dinheiro que possuía e, à irmã, a mobília de seu
uso.
Nos dias curtos
de inverno, a noite descia antes que tivéssemos jantado. Quando nos
encontramos, depois, na rua, notávamos que os prédios estavam perdidos nas
trevas. O espaço do céu, que se descobria por cima de nossas cabeças, era de
uma cor violácea e, para ele, subiam os débeis reflexos dos lampiões. O ar frio
espicaçava-nos, e íamos brincando até aquecer o corpo. A nossa gritaria ecoava
na rua silenciosa. Atravessando, nessas brincadeiras desenfreadas, os campos
escuros e lamarentos que ficavam atrás das casas (onde desafiávamos a molecada
do subúrbio), íamos até as portas dos quintais sombrios e gotejantes dos quais
emanava o cheiro do lixo, ou até as cavalariças diferentemente odorosas, onde
algum cocheiro escovava e penteava as crinas de um cavalo, fazendo tilintar os
metais dos arreios. Quando voltávamos, a luz, que saía das janelas da cozinha,
iluminava a rua. Se meu tio fosse visto dobrando a esquina, escondíamo-nos num
canto até que ele se recolhesse à casa. Ou, se a irmã de Mangan viesse à soleira
da porta chamar por ele para ir tomar chá, nós ficávamos espiando-a para ver o
que acontecia. Caso ela se conservasse à espera, dávamos por vencidos e
voltávamos com passos resignados. Ela, em geral, não arredava o pé, e o seu
vulto se destacava na claridade da porta entreaberta. O irmão zombava sempre
dela antes de obedecê-la, e eu detinha-me a observá-los por entre as grades. O
vestido da moça movia com o seu corpo e a trança solta balançava de um lado
para o outro.
Todas as manhãs,
eu me punha a espreitar a casa dela. O estore, corrido até quase o parapeito da
janela, ocultava a minha presença. Quando ela aparecia no limiar da porta, o
meu coração se alvoroçava. Corria para o vestíbulo, agarrava nos livros e a
seguia. Aquela imagem estava sempre diante dos meus olhos. Quando chegava à
altura dos nossos caminhos divergirem, eu apressava o passo e cruzava na sua
frente. Isso sucedia, como disse, todas as manhãs: nunca lhe dirigia a palavra,
a não ser por casualidade, mas bastava ouvir o seu nome para sentir ferver o
meu sangue.
Evocava-lhe a
imagem até nas circunstâncias mais prosaicas. Nos sábados à noite, quando minha
tia ia fazer compras, levava-me na sua companhia para eu carregar os embrulhos.
Caminhávamos através de ruas bem iluminadas, esbarrando em bêbados e mulheres
impertinentes, ouvindo pragas de lavradores ou pregões esganiçados de
caixeiros, e, às vezes, a voz fanhosa de cantores ambulantes que entoavam
coisas acerca de O’Donavan Rossa, ou baladas a propósito de acontecimentos
locais. Todos esses ruídos resumiam-se para mim numa simples sensação: a de
conduzir-me a salvo através de uma coorte de adversários. O nome dela vinha-me
aos lábios nesses momentos em estranhos louvores e orações que nem eu mesmo
entendia. Tinha, muitas vezes, os olhos repletos de lágrimas (não sabia dizer
por quê) e, em outras, parecia-me que, do coração, manava uma corrente que se
me alastrava no peito. Pensava pouco no futuro. Não tinha a certeza de lhe
poder falar mas, caso o fizesse, não sabia como lhe revelar a minha febril
adoração. O meu corpo, porém, era como uma harpa, e as suas palavras, do mesmo
modo que os seus gestos, assemelhavam-se a dedos que faziam vibrar as cordas
sonoras.
Uma noite, fui à
sala onde o padre havia morrido. Estava escuro, chovia lá fora e na casa o
silêncio era completo. Através de uma vidraça quebrada, eu ouvia a chuva
crivando intensamente de agulhadas a terra encharcada dos canteiros. A mim
chegava a luz de um candeeiro distante, vinda da janela de outro prédio, e eu
me regozijava por não ver mais nada. Os meus sentidos pareciam querer
esconder-se, como se soubessem que eu fugia deles. Apertava as mãos uma contra
a outra até que as palmas ardessem. “Amor! Amor!”, murmurava então.
Por fim, ela
falou-me. Quando me dirigiu as primeiras palavras, fiquei tão perturbado que
não soube o que fazer. Perguntou-me se eu ia ao “Arábia”, mas não me lembro se
disse sim ou não. Tratava-se de uma magnífica quermesse e ela estava desejosa
de ir lá.
—Por que não
vai? — preguntei.
Enquanto me
falava, fazia girar em volta do pulso o seu bracelete de prata. Não ia,
explicou-me, porque naquela semana tinha um retiro espiritual no convento. O
irmão e mais dois rapazinhos estavam brigando por causa de seus bonés, e eu fui
sozinho até a grade. Ela fez força numa das barras e enfiou a cabeça na minha
direção. A luz do lampião fronteiro à nossa porta alcançava-lhe a curva clara
do pescoço, iluminava-lhe parte do cabelo, descia pela mão que pousava na grade
e atingia ainda um pedaço do vestido — guarnição do saiote, apenas visível
quando ela se movia.
—Você iria
gostar — disse-me ela.
—Se eu for
—respondi-lhe —, trago-lhe uma lembrança.
Quantas loucuras
não desenvolvi depois daquela noite nos meus pensamentos, enquanto passeava, e
o nos meus sonhos, quando dormia! Meu maior desejo era suprimir os dias que
faltavam — tão cheios de tédio! Aquecia- me no silêncio da minha alma curiosa e
envolvia-me num encanto de magias orientais. Pedi que me deixassem ir à
quermesse no sábado seguinte. Minha tia ficou surpresa e disse que esperava não
se tratar de nenhuma complicação. Na aula, respondi a poucas perguntas e notei
que o rosto do professor passava da expressão de afabilidade para a de ar
carrancudo. Ele desconfiava que eu estivesse me tornando peralta. Quanto a mim,
era-me difícil conciliar todas as ideias que me povoavam o cérebro. Mal tinha
paciência para as coisas sérias da vida. Postos entre mim e o meu desejo, os
divertimentos infantis pareciam brincadeiras monótonas.
Na manhã de
sábado, lembrei a meu tio que queria ir à quermesse naquela mesma noite. No
momento, ele estava procurando no bengaleiro a escova de chapéus e respondeu-me
laconicamente:
—Sim, rapaz, já
sei.
Como ele se
encontrava no vestíbulo, não pude ir à sala de visitas e permaneci na janela. O
ambiente da casa me pareceu desagradável e fui andando
lentamente para
a escola. O tempo continuava enevoado e o meu coração crescia de desânimo.
Quando voltei
para jantar, meu tio ainda não havia regressado. Era cedo, aliás. Fiquei
durante algum tempo a contemplar o relógio, mas seu ruído acabou por
irritar-me, e eu saí da sala, subindo a escada e indo vagar pelos quartos do
andar superior (sombrios e desconfortáveis), cantarolando para me distrair. De
uma das janelas que davam para a rua, vi meus companheiros brincando. Os gritos
que soltavam chegavam a mim enfraquecidos e indistintos. Encostando a testa à
vidraça fria, olhei para o prédio escuro onde ela morava. Devia ter ficado ali
durante cerca de uma hora, sem nada ver a não ser a figura vestida de castanho
que se me representava na imaginação — aureolada pela luz do candeeiro que lhe
punha em relevo ora a curva do pescoço, ora a guarnição do saiote. Desci ao rés
do chão e encontrei a Sra. Mercer sentada junto à lareira.
Era uma velha
faladora, viúva de um penhorista, que colecionava selos usados para fins de
caridade. Tive de aturar a conversa, enquanto tomavam chá. Isto prolongou-se
por mais de uma hora, e meu tio não chegava! A Sra. Mercer levantou-se para
sair, lamentando não poder demorar-se mais tempo, mas já eram oito e meia e não
gostava de andar na rua a horas tardias, porque o ar da noite lhe fazia mal.
Depois que ela foi embora, comecei a passear na sala, de punhos cerrados. Minha
tia observou:
—Acho que você tem
de desistir de ir à quermesse esta noite.
Às nove horas,
ouvi meu tio destrancar a porta, depois como que o senti a conversar comigo, e
por fim adivinhei o ruído do cabide ao receber o peso de seu sobretudo. Todos
estes sinais me eram familiares. A certa altura do jantar, pedi- lhe que me
desse dinheiro para ir ao “Arábia”. Ele tinha-se esquecido!
—A estas horas
já estão todos dormindo — respondeu-me.
Não achei graça
na resposta. Minha tia interveio em tom enérgico:
—Dê-lhe o
dinheiro e deixe-o ir. Não o atrase mais.
Meu tio declarou
ter muita pena de se haver esquecido. Quis saber outra vez aonde eu ia.
Informei-o de novo e ele indagou se eu conhecia o “Adeus do árabe ao cavalo”.
Quando saí da cozinha, deixei-o recitando os primeiros versos da composição.
Ao descer
Buckingham Street, direto à estação, levava um florim bemapertado entre os
dedos. À vista das ruas cheias de compradores e cintilantes de gás,
reconsiderei no objetivo de minha jornada. Tomei lugar na terceira classe de um
trem quase vazio. Depois de intolerável demora, pôs-se este em marcha, mas
muito devagar: arrastou-se entre casebres arruinados e passou sobre o rio cujas
águas brilhavam. Na West Row Station, a multidão invadiu os vagões, mas os
empregados recambiaram esses passageiros, alegando que o trem se destinava
especialmente à quermesse. Continuei só no vagão deserto. Dentro em pouco,
parávamos diante de uma plataforma de madeira improvisada. Desembarquei e vi,
no mostrador luminoso de um relógio, que faltavam dez para dez. À minha frente
erguia-se um edifício enorme, onde se exibia aquele nome de mágica.
Com medo de que
a quermesse já estivesse para fechar, passei muito rapidamente pela
“borboleta”, apresentando um xelim ao porteiro, um homem macambúzio. Depois,
achei-me num átrio imenso cingido até meia altura por uma galeria. Quase todas
as barracas estavam fechadas e grande parte da sala conservava-se às escuras.
Havia ali um silêncio semelhante ao das igrejas depois de terminada as
cerimônias do culto. Caminhei timidamente até o meio da quermesse. Poucas
pessoas paravam junto aos balcões que ainda estavam funcionando. Por trás de um
reposteiro, sobre o qual se liam em letras resplandecentes as palavras “Café
Chanant”, dois homens contavam dinheiro numa bandeja. Ouvia-se o tinir das
moedas.
Lembrando-me do
motivo que me trouxera à quermesse, fui a uma mesa das barracas e examinei as
jarras de porcelana e os serviços de chá com florinhas. À porta, uma moça
conversava e ria com dois rapazes. Notei-lhe a pronúncia inglesa e ouvi por
alto o que diziam:
—Qual, nunca
proferi semelhante coisa!
—Ora essa!
—Sim, senhora!
—Acham que é
verdade?
—Acho. Eu ouvi.
—Pois é mentira!
Notando a minha
presença, a moça avançou para mim e perguntou se eu desejava comprar alguma
coisa. O tom não foi muito próprio para incutir coragem. Pareceu-me que ela
falava por mera obrigação. Olhei humildementepara os jarrões que, de cada lado
da entrada da barraca, se assemelhavam a guardas do Oriente, e respondi:
—Não... Muito
obrigado.
Ela mudou de
posição alguns objetos e voltou a conversar com os rapazes. O assunto continuou
a ser o mesmo. E ela ainda uma vez me olhou por cima dos ombros.
Dei mais alguns
passos defronte da barraca (embora soubesse que a minha permanência ali seria
inútil) para tornar mais visível meu interesse pela mercadoria. Depois,
lentamente, voltei as costas e fui ao centro da quermesse. Ouvi, então, alguém
gritar, do extremo da galeria, que iam apagar as luzes. A parte superior do
átrio já estava, por completo, às escuras.
Levantando os
olhos para essa escuridão, vi a mim próprio como pessoa conduzida pela vaidade.
E os olhos arderam-me de desespero e raiva.
Tradução: Autor desconhecido de
meados do séc. XX. Conto publicado originalmente na revista “A Cigarra”, edição
nº 182, 1949. Atualizou-se a ortografia e fizeram-se pequenas adaptações
textuais.
Imagem: Léon Comerre (1850 –
1916).
Este conto está disponível em
e-book, nos formatos PDF, MOBI e E-Pub em FREE BOOKS EDITORA VIRTUAL.
[1] Walter Scott (1771 – 1832), escritor
escocês de expressão inglesa, é o célebre autor do romance histórico
“Ivanhoe”(1820).
[2] Eugène-François Vidocq (1775 – 1857) é
considerado o pai da criminologia. Foi um criminoso que veio a se tornar o
fundador e primeiro diretor da Segurança Nacional francesa, polícia
especializada em investigações criminais.
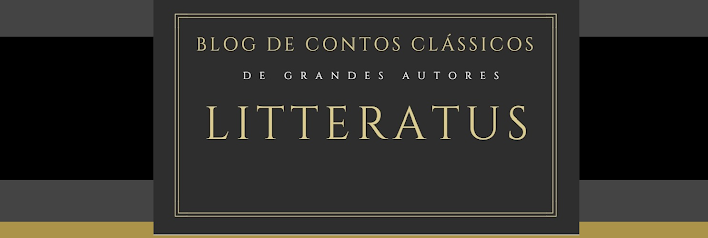





Comentários
Postar um comentário