LAZARILHO DE TORMES - O EPISÓDIO DO CEGO - Anônimo do século XVI
LAZARILHO DE TORMES
O EPISÓDIO DO
CEGO
Anônimo do
séc. XVI
Tradução de Paulo Soriano
Pois
saiba Vossa Mercê, antes de tudo, que a mim me chamam Lázaro de Tormes, filho
de Tomé González y de Antona Pérez, naturais de Tejares, aldeia de Salamanca. Deu-se
o meu nascimento dentro do rio Tormes, razão por que tomei este sobrenome, e
aconteceu assim: meu pai, que Deus o perdoe, era incumbido de alimentar a mó de
um moinho, no qual foi moleiro por mais de quinze anos, situado à margem
daquele rio. E estando a minha mãe grávida de mim, certa noite, no moinho, entrou
em trabalho de parto e ali mesmo deu à luz; de maneira que, em verdade, posso
me dizer nascido no rio.
Quando
eu era um garoto de oito anos, acusaram o meu pai de certas sangrias malfeitas
nos sacos que as pessoas traziam para moer. Por isso, foi preso e confessou,
não negou e sofreu a perseguição da Justiça. Espero em Deus que esteja ele na
Glória, pois o Evangelho nos chama de bem-aventurados.
Neste
tempo, constituíram uma certa armada contra os mouros, e nela seguiu o meu pai,
que na ocasião estava desterrado, em razão do já dito desastre, com o encargo
de servir como arrieiro de um cavaleiro que ia à guerra. E com o seu senhor,
como leal criado, perdeu a vida.
Minha
viúva mãe, vendo-se sem marido e sem abrigo, decidiu acercar-se da boa gente
para ser uma delas, e foi morar na cidade. Lá, alugou uma casinha, aplicando-se
em cozinhar para alguns estudantes, e em lavar a roupa de alguns tratadores de
cavalos do comendador De la Magdalena, de maneira que passou a frequentar as
cavalariças.
Ela e um homem escuro — um dos tratadores
de animais — vieram a conhecer-se. Este, às vezes, vinha à nossa casa e só
partia de manhã. Outras vezes, chegava de dia à nossa porta, a pretexto de
comprar ovos, e entrava em casa. Eu, ao princípio das visitas, me incomodava com aquela presença, pois o homem metia-me medo, mercê de sua cor e de seus maus
modos. Mas, desde que notei que, com a sua vinda, a comida melhorava, comecei a
afeiçoar-me a ele, porque sempre trazia consigo pão, pedaços de carne e, no
inverno, a lenha com que nos aquecíamos.
De maneira que, continuando a
hospitalidade e as conversas, minha mãe veio a dar-me um menininho negro muito
bonito, que eu punha a pular sobre os meus joelhos e a quem ajudava a acalentar.
Recordo-me que, estando o negro, meu padrasto, a brincar com o pequerrucho,
como este via que eu e minha mãe éramos brancos, e o pai não, fugia dele, com
medo, para minha mãe e, apontando com o dedo, dizia:
— Mãe, olha o bicho-papão!
Ao que ele, rindo, respondia:
— Olha o filho da puta!
Eu, embora fosse muito pequeno, reparei
naquelas palavras de meu irmãozinho e disse para mim mesmo: “Quantos não devem
existir no mundo que fogem dos outros porque não enxergam a si mesmos?”.
Quis o destino que o namoro de minha
mãe com Zaide — assim ele se chamava — chegasse aos ouvidos do mordomo e,
feitas as investigações, descobriu-se que ele surrupiava a metade da cevada
destinada aos animais, além do farelo, lenha, almofadas e flanelas, e dava por
pedidas as mantas e os xairéis dos cavalos. E, quando outra coisa não tinha à
mão, retirava as ferraduras dos animais, e com estas coisas socorria a minha
mãe para criar o meu irmãozinho. Quando um clérigo ou frade surrupiam — aquele,
dos pobres; este, do convento — para dar às suas devotas e para ajudar a
outrem, não nos admiramos; todavia, condenamos um pobre escravo se levado a
isto por arte do amor.
E tudo quanto disse e mais ainda ficou
provado porque me interrogaram com ameaça e, criança que era, respondia a tudo,
e, com medo, revelava tudo o que sabia, até mesmo algumas ferraduras que, a
mando de minha mãe, vendi a um ferreiro. Açoitaram e castigaram meu padrasto com
pingos de gordura derretida fervente; minha mãe, além das costumeiras cem
chibatadas, foi condenada a nunca mais entrar na casa do referido comendador e
a jamais acolher novamente em casa o lastimado Zaide. Para não piorar a
situação, a infeliz esforçou-se e cumpriu a sentença. E para evitar o perigo e
fugir das más línguas, foi servir aos que naqueles tempos viviam na estalagem
de Solana. E ali, padecendo mil incômodos, acabou de criar o meu irmãozinho até
que este aprendeu a andar, e a mim, até me tornar um bom rapazote, que me
ocupava em trazer vinho e vela para os hóspedes e fazer tudo mais que me
mandassem.
Neste tempo, hospedou-se na estalagem
um cego, o qual, considerando que eu bem lhe serviria como guia, pediu-me à
minha mãe. Esta me confiou ao cego, dizendo-lhe que eu era filho de um bom
homem que, por louvar a fé, padecera na expedição dos Gelves, acrescendo que
confiava em Deus que eu não sairia pior homem que meu pai. Rogou-lhe que me
tratasse bem e zelasse por mim, pois eu era um órfão. Ele respondeu que assim o
faria, e que me recebia não como criado, mas como filho. E assim comecei a
servir e a guiar o meu novo e velho amo.
 |
Depois de alguns dias em Salamanca, e
parecendo ao meu amo que ali não se ganhava a contento, resolveu debandar.
Antes de partir, fui ver a minha mãe e, ambos chorando, ela me deu a sua bênção
e disse:
— Filho, sei que não te verei mais.
Procura ser bom e que Deus te guie. Eu te criei e o pus aos cuidados de um bom
amo. Cuida-te.
E assim fui para o meu amo, que estava
me esperando.
Saímos de Salamanca e, chegando ao
portão da cidade, vi que lá havia um animal de pedra, que quase tem a forma de
um touro. O cego mandou-me que chegasse perto do animal e, ali parando,
disse-me:
—Lázaro, aproxima o teu ouvido a este
touro e ouvirás um grande ruído dentro dele.
Eu, em minha ingenuidade, acreditei
naquilo. E como o cego percebeu que eu mantinha a cabeça próxima à pedra, aprumou
a mão e deu-me uma grande cabeçada no diabo do touro, e aquela chifrada me
deixou com a cabeça dolorida por mais de três dias. E disse-me ele:
—Néscio! Aprende que o guia de um cego
tem que ser mais esperto que o diabo!
E riu
muito da brincadeira.
Pareceu-me que, naquele instante,
despertei da inocência em que, como criança, estava adormecido. Disse a mim
mesmo: “É verdade o que ele me disse. É preciso aguçar o olho e ficar atento,
pois sou sozinho no mundo, e devo aprender a me proteger.”
Começamos o nosso caminho e, em poucos
dias, ensinou-me o seu jargão. E, como em mim encontrava esperteza,
regozijava-se, dizendo:
—Nem ouro nem prata tenho eu para te
dar. Mas lições de vida tenho muitas para te dar.
E foi assim que, depois de Deus, este
me deu a vida e, embora fosse cego, me iluminou e me adestrou na arte de viver.
Folgo em contar a Vossa Mercê estas
ninharias para mostrar quanta virtude há nos homens que, mesmo vindo de baixo,
sabem subir, e quanto vício há naqueles que, estando no alto, se deixam
rebaixar.
Mas, voltando ao cego e contando as
suas façanhas, saiba Vossa Mercê que, desde que Deus criou o mundo, a ninguém
fez mais astuto e sagaz. Em seu ofício, era uma águia. Sabia de cor cento e
tantas orações. Tinha uma entonação baixa, calma e muito audível, que fazia
ressoar a igreja onde rezava; um rosto humilde e devoto, que com muito bom
comedimento exibia quando rezava, sem fazer gestos ou movimentos com a boca ou
com os olhos, como os outros costumam fazer. Além disso, tinha outras mil
formas de arrancar o dinheiro alheio. Dizia saber orações para muitos e
diversos efeitos: para mulheres que não pariam, para as que estavam em trabalho
de parto e, para as malcasadas, que se tornassem amadas por seus maridos. Fazia
prognósticos às grávidas, dizendo-lhes se teriam menino ou menina. Em se
tratando de remédios, dizia que Galeno não sabia a metade que ele para dor de
dentes, desmaios e males uterinos. Finalmente, se alguém lhe dizia padecer de
alguma paixão, ele logo prescrevia: “Faça isto, faça aquilo, cozinha tal erva,
toma tal raiz”. Por conta disto, todos o procuravam, especialmente as mulheres,
que acreditavam em tudo o que ele dizia. Com tais artimanhas, extorquia grandes
proveito das incautas, e ganhava em um mês mais que cem cegos num ano.
Mas também quero que saiba Vossa Mercê
que, com tudo o que adquiria e possuía, jamais vi um homem tão mesquinho e
avarento como ele. Tanto que me matava de fome e, assim, dispensava-me apenas a
metade do necessário. Digo a verdade: se com a minha sutileza e artimanhas não
soubesse me remediar, muitas vezes teria fenecido de fome. Mas, apesar de toda
a sua sabedoria e prudência, eu o enganava de tal sorte que sempre, ou na
maioria das vezes, calhava-me a maior porção. A tanto, pregava-lhe
peças endiabradas, das quais contarei algumas, malgrado eu não me tenha saído
incólume de algumas delas.
Ele trazia o pão e toda as outras
coisas em um farnel de pano, que era fechado pela boca com o emprego de uma
argola dotada de cadeado e chave. Quando enfiava e tirava as coisas do saco,
fazia-o com tanta vigilância e cautela que era impossível a alguém subtrair-lhe
sequer uma migalha. Eu comia aquela miséria que ele me dava em duas dentadas.
Depois que ele fechava o cadeado e se descuidava, pensando que eu estava
entretido com outras coisas, por um dos flancos da bolsa, que eu descosturava e
voltava a costurar, sangrava o avarento farnel, e dele eu retirava não apenas
um pedaço de pão, mas boas porções de torresmo e linguiça. E, assim, buscava o
momento certo não para fazer uma nova abertura no saco, mas cessar a fome dos
diabos que o maldito cego me fazia passar.
Tudo o que podia surrupiar ou furtar
trazia em moedas de meias brancas, e quando lhe mandavam rezar e lhe davam
brancas, como ele carecia de vista, mal faziam menção de entregar-lhe a moeda,
eu já trazia escondida em minha boca a meia branca, de forma que, quando ele,
por mais rápido que fosse, estendia a mão, recebia somente a metade do justo
valor da esmola, por conta da troca que eu prontamente fazia. O mau cego se queixava
de mim, porque logo notava pelo tato que não era uma branca inteira, dizendo:
— Que diabo é isto? Porque, desde que
estás comigo, me dão apenas meias brancas, e, antigamente, com uma branca e muitas
vezes com um maravedi, muitas vezes me esmolavam. É em ti que deve estar a
razão desta desgraça.
Também ele abreviava a reza e deixava a
oração pela metade, porque me ordenara que lhe puxasse pela ponta da capa,
assim que aquele que o mandara rezar se afastasse. E era isto o que eu fazia.
Logo ele se punha a gritar, dizendo, como costumam fazer os cegos:
— Quem manda rezar tal ou qual oração?
Era seu costume colocar um jarrinho de
vinho junto a si quando comíamos. Rapidamente eu o apanhava, dava-lhe bicadinha
e o repunha em seu lugar. Mas isto não durou muito, porque, pelos goles que
dava, logo dava falta do conteúdo e, para pôr o seu vinho a salvo, nunca mais
se desgarrava do jarro, mantendo-o sempre seguro pela asa. Mas não havia tão
forte ímã como aquele, que tanto a si puxasse, quanto eu com um comprido caniço
de centeio, que para tal fim eu havia preparado. O caniço, introduzido pela
boca do jarro, permitia-me sugar o vinho sub-repticiamente, ludibriando o velho
cego. Mas, como o velhaco era deveras astuto, penso que descobriu a minha
artimanha, e desde então mudou de atitude, passando a manter o jarro preso
entre as pernas e com uma mão sobre ele, de modo a tapá-lo. Assim, bebia com
tranquilidade.
Eu, como estava afeito ao vinho, morria
por ele. E, vendo que o ardil do caniço já não me valia de nada, resolvi fazer
um pequenino furo no fundo do jarro, que jorraria como uma fontezinha, que eu
delicadamente tapava com uma tênue camada de cera. Na hora de comer, fingindo
sentir frio, metia-me entre as pernas do triste cego para aquecer-me no parco
fogo que tínhamos. Ao calor do lume, a cera, por ser bem escassa, logo
derretia. Então, a fontezinha destilava o vinho sobe a minha boca, que eu
mantinha de tal forma aberta que não me deixava desperdiçava uma gota sequer. Quando
o pobre coitado ia beber, nada encontrava. Espantava-se, maldizia-se, mandava
ao diabo o jarro e o vinho, não sabendo explicar o que estava acontecendo.
—Não me venhas dizer, tio, que bebi o
vinho — dizia-lhe —, pois não tiras a mão do vaso.
Tanto virou, revirou e apalpou o vaso
que logrou achar o buraquinho, desvendando o meu ardil. Mas dissimulou a
descoberta, como se nada houvesse percebido. No dia seguinte, tendo eu
ressumado o vaso como sempre, sem perceber o castigo que me estava reservado,
ou desconfiar que o cego me deitava vigilância, acomodei-me no lugar de
costume. Estando a receber aqueles doces tragos, com o rosto voltado para o céu,
de olhos semicerrados para melhor degustar o saboroso licor, notou o desesperado
cego que agora era o momento de aplicar a sua vingança e, com toda sua força, erguendo
com as duas mãos aquele doce e amargo jarro, deixou-o cair sobre a minha boca, impelindo-o,
como disse, com todo o seu vigor, de maneira que ao pobre Lázaro, que de nada
disto se precavera — antes, como outras vezes, estava descuidado e deleitado —,
verdadeiramente pareceu que o céu, com tudo o quanto nele existe, havia
despencado sobre ele.
E foi tal a pancada que fiquei tonto e
desmaiei. O golpe desferido com a jarra foi tão grande que pedaços dela
penetraram no meu rosto, cortando-me em vários lugares e quebrando-me dentes
que até hoje me fazem falta. A partir de então, passei a odiar aquele terrível
cego. E, embora gostasse ele de mim, fizesse-me agrados e zelasse por mim, bem
vi que ele se divertira com aquele cruel castigo. Lavou-me com vinho as feridas
que, com os pedaços do vaso, me havia feito, e, sorrindo, disse:
— O que achas, Lázaro? Aquele que te
feriu te cura e te dá saúde.
E disse outros gracejos, que para mim
não tinham graça nenhuma.
E quando já estava um tanto recuperado
daquela negra punição e dos hematomas, considerando que, com alguns poucos
golpes como aquele, o cego se livraria de mim, eu quis primeiro livrar-me dele.
Mas não agi tão prontamente, porquanto pretendia fazê-lo com maior segurança e
proveito. E, embora quisesse acalmar o meu coração e perdoar-lhe a pancada do
jarro, tal não permitiam os maus-tratos que o terrível cego doravante me
impingia, pois sem causa ou razão me maltratava, dando-me cascudos e puxões de
cabelo. E se alguém lhe perguntava por que me tratava tão mal, logo contava a
história do jarro, dizendo:
—Pensas que este moço é algum inocente?
Pois imagina se o demônio ensaiaria tal façanha.
Os que o ouviam, persignando-se,
diziam:
— Vê só, quem poderia esperar de um
garoto tão pequeno tanta maldade?
E riam muito da artimanha, dizendo-lhe:
— Castiga-o, castiga-o, que Deus te
compensará.
E ele, com tal estímulo, não fazia
outra coisa senão me maltratar.
Por isto, eu, de caso pensado, sempre o
conduzia pelos piores caminhos, justamente para fazer-lhe mal e causar-lhe
dano. Se havia pedra, guiava-o por sobre elas; se lodo, passava-o pelo mais
fundo. Malgrado eu não seguisse pela parte mais seca, folgava-me de ter um olho
furado para vazar os dois de quem não tinha nenhum. Por isto, com o cabo do
longo cajado ele sempre me golpeava a nuca, que vivia cheia de calombos e
pelada em razão dos puxões que me aplicava. dava. Malgrado eu jurasse que não o
fazia por mal, senão por não encontrar melhor caminho, meus esforços eram
debalde, porquanto ele não mais acreditava em mim, tal era a intuição e a
grandíssima perspicácia do velhaco.
Para
que veja Vossa Mercê até
que ponto ia a engenhosidade desse astuto cego, contarei um entre os muitos
casos que com ele me sucederam, no qual me parece que ele deixa bem evidente a
sua astúcia. Quando saímos de Salamanca, era o seu intento chegar a Toledo,
porque dizia ser a gente daquela cidade mais rica, embora não muito afeita a
dar esmolas. Amparava-se no seguinte refrão: “Mais dá o rico empedernido que o
pobre liso”. E fomos ao nosso destino pelos melhores lugares. Onde achava
melhor acolhida e ganhos, parávamos; onde não, no terceiro dia, seguíamos
adiante.
Aconteceu que, chegando a um lugar que
chamam Almorox, na época da colheita das uvas, um vindimador lhe deu um cacho
de esmola. E como, costumeiramente, trazem os cestos maltratados, e, também,
porque a uva naquela época está muito madura, debulhava-se o cacho com as mãos.
Se o colocassem num farnel, tornava-se mosto, assim como tudo que estivesse com
ele. Então o cego resolveu fazer um banquete, tanto para me agradar — porque
naquele dia já me havia dado muitas joelhadas e bofetões —, quanto por não
poder levar consigo as uvas. Quando nos sentamos em um barranco, ele disse:
— Agora quero fazer-lhe uma
liberalidade. Ambos comeremos em pé de igualdade este cacho de uvas. Faremos a
seguinte partilha: tu comerás uma uva e eu outra tanta. Mas tu hás de me
prometer que não pegarás mais de uma a cada vez. Eu farei o mesmo, até que
acabemos. Assim, não haverá trapaças.
Feito o trato, começamos. Mas logo ao
segundo lance, o velhaco mudou o intento e começou a tirar as uvas duas a duas,
supondo que eu fazia o mesmo. Como vi que ele quebrara o nosso pacto, não me
contentei em ir de par com ele, senão passei adiante: dois a dois e três a três
e, como podia, as comia. Acabado o cacho, ele ficou um momento com o engaço na
mão e, sacudindo a cabeça, disse-me:
—Tu me enganaste, Lázaro. Juro por Deus
que comeste as uvas três a três.
—Não comi — disse eu. — Mas, por que
desconfias disto?
Respondeu o sagacíssimo cego:
— Sabes por que sei que comeste três a
três? Porque tu viste que eu comia duas a duas, mas nada disseste.
Eu ri comigo mesmo e, embora menino,
percebi a discreta consideração do cego.
Mas, para não ser prolixo, deixo de
contar muitas coisas, assim engraçadas como dignas de nota, que com este meu primeiro
amo me aconteceram, e quero agora narrar como se deu a nossa despedida e, com
ela, concluir a história.
Estávamos em Escalona, vila do duque
assim nominado, em uma estalagem, e o cego me deu um pedaço de linguiça para
que eu a assasse. E como a linguiça já havia pingado toda, tirou um maravedi da
bolsa e mandou que eu fosse à taverna comprar vinho. O demônio pôs-me diante
dos olhos a ocasião que, como se diz, faz o ladrão. Havia, junto ao fogo, um
nabo pequeno, comprido e imprestável que, por não servir para o cozido, fora abandonado
ali. Como na ocasião estávamos somente nós dois, e eu estava com um apetite
voraz, envolvido pela saborosa fragrância da linguiça, da qual sabia que apenas
eu haveria de desfrutar, e sem medir as consequências, vencido todo o medo de
levar a cabo o meu desejo, enquanto o cego tirava da bolsa o dinheiro, peguei a
linguiça e muito rapidamente meti o referido nabo no espeto. O meu amo,
dando-me o dinheiro para o vinho, segurou o espeto e começou a dar-lhe voltas,
querendo assar o que, por imprestável, deixara de ser cozido.
E fui buscar o vinho, com o qual não
tardei em despachar a linguiça. Quando voltei, encontrei o cego pecador — que
ainda não se dera conta do engodo, por não haver tateado o que supunha ser
linguiça — a apertar o nabo entre duas bandas de pão. Porque segurava as bandas
de pão e as mordesse, imaginando, também, tirar um naco da linguiça, ficou
gelado com o nabo frio.
Alterando-se, disse:
— O que é isto, Lazarilho?
— Desgraçado de mim! — eu disse. —
Quer-me lançar suspeitas? Não acabei de trazer o vinho? Alguém que estava aqui,
e, por burla, fez isto.
— Não, não! — disse ele. — Eu não tirei
a mão do espeto em momento algum. Não é possível.
Eu jurei e jurei que era inocente
daquele truque e daquela troca. Mas nada disto me adiantou, pois nada se
escondia da astúcia do maldito cego. Levantando-se, puxou-me pela cabeça e se
aproximou de mim para me cheirar. E como deve ter sentido o meu hálito, à maneira
de um ágil cão de caça, ele, para melhor esclarecer da verdade, e com a grande
agonia em que se encontrava, agarrando-me com as duas mãos, escancarou-me
desmedidamente a boca, e, fazendo pouco caso disto, nela meteu o seu nariz,
longo o afiado, que, por conta de sua ira, naquela ocasião, aumentara um palmo,
e com a ponta dele, alcançou-me a garganta. Dada a brevidade do tempo, a negra
linguiça ainda não havia se assentado no meu estômago, e, o mais importante, o
toque daquele compridíssimo nariz me deixara sufocado. Todas essas coisas se
juntaram e foram a causa de que a trapaça e a guloseima se manifestassem, e a
linguiça fosse devolvida a seu dono. De maneira que, antes que o maléfico cego
tirasse de minha boca a sua tromba, senti tal alteração em meu estômago, que
regurgitei o que furtara, de sorte que seu nariz e a negra e mal mascada
linguiça saíram ao mesmo tempo de minha boca.
Oh, grande Deus! Quisera eu estar
sepultado naquela hora, porque morto eu já estava! Era tal a valentia daquele
cego que, se não me acudissem ao ruído, penso que não me deixaria com vida.
Arrebataram-me de suas mãos, deixando-as cheias daqueles poucos cabelos que
ainda possuía, com a cara arranhada e o pescoço e a garganta rasgados. E isto
ele bem merecia, pois por causa de sua maldade me vinham tantas atribulações.
A todos os que de nós se aproximavam, contava
o cego maligno meus desastres, narrando-lhes, uma e outra vez, tanto a história
do jarro quanto a do cacho de uvas e, agora, a mais recente. E tão grandes eram
as risadas dos circunstantes, que todas as pessoas que passavam pela rua
corriam para ver a festa. E com tanta graça e espirituosidade recontava o cego
as minhas façanhas que, embora eu não estivesse tão maltratado e choroso,
parecia-me que seria injustiça delas não rir também.
E, enquanto isto se passava, à minha
memória vinham a covardia e fraqueza, pelas quais me maldizia, por já lhe não
ter arrancado o nariz, pois um bom tempo tive para isto, porque a metade do
caminho já estava vencida. Pois, com apenas um apertar do dente, o seu nariz
ficaria em casa, e, ainda que pertencesse ele a um malvado, quiçá o reteria
melhor em meu estômago que a linguiça e, assim escondido, eu poderia negar a
acusação. Quisera Deus que eu assim tivesse feito, que houvesse sido assim.
Fizeram as nossas pazes a taverneira e
os que ali estavam e, com o vinho que eu trouxera para ele tomar, lavram-me o
rosto e a garganta. Sobre isto comentava o cego com humor, dizendo:
— Em verdade, este moço me consome mais
vinho com abluções durante um ano, do que bebo em dois. Pelo menos, Lázaro,
deves mais ao vinho que a teu pai, porque ele somente uma vez te gerou,
enquanto o vinho mil vezes te deu vida.
Em seguida, contava quantas vezes me
havia escoriado e arranhado a cara e, depois, com o vinho me curara.
—Eu te digo — disse — que, se um homem
no mundo há de ser bem-aventurado com o vinho, este serás tu.
E riam muito os que me lavavam,
malgrado eu resmungasse. Mas o prognóstico do cego não se saiu mentiroso, e,
hoje em dia, muitas vezes me recordo daquele homem que, sem dúvida, devia ter o
espírito da profecia. Casam-me pesar os aborrecimentos que lhe causei, embora
tenha pago por eles, considerando que, naquele dia, o que ele me disse se saiu
tão verdadeiro, com adiante Vossa Mercê ouvirá.
Por isto, e pelos maus gracejos que o
cego fazia comigo, tomei a decisão de deixá-lo definitivamente, e como sobre
isto pensara e conservara na vontade, com esta última vilania reforcei ainda mais
o meu intento. E foi assim que, no dia seguinte, saímos pela vila a pedir
esmola. Havia chovido na noite anterior. E porque também chovera durante o dia,
o cego rezava sob uns soportais que havia naquela aldeia, onde não nos
molhávamos. Mas como a noite caía e não cessava de chover, o cego disse-me:
— Lázaro, esta chuva incomoda muito e
quanto mais anoitece, mais ela engrossa. Recolhamo-nos à pousada a tempo.
Para lá chegar era preciso transpor um
arroio que, com a chuva copiosa, tomara corpo. Eu lhe disse:
— Tio, o arroio está muito largo. Mas,
se tu queres, eu procuro por onde atravessar com maior facilidade, sem nos
molhar, porque ali adiante ele se estreita muito e, saltando, passaremos a pés
enxutos.
Pareceu-lhe este um bom conselho, e
disse:
—Tu és esperto; por isto, eu te quero
bem. Leva-me a este lugar onde o arroio fica estreito, porque estamos no
inverno e, se a água faz mal, pior é ter os pés molhados.
Eu, vendo que se abria a oportunidade
para a realização do meu desejo, tirei-o do soportal e o conduzi direto a um
pilar — ou poste de pedra — que ficava na praça, sobre o qual e os demais se
apoiavam as sacadas das casas. Eu disse-lhe:
—Tio, este é o vau mais estreito que há
no arroio.
Como chovia forte e o pobre cego se
molhava, e com a pressa que tínhamos de sair da água, que se despejava sobre
nós, e, sobretudo, porque Deus, para proporcionar-me a vingança, lhe cegou
naquela hora o entendimento, ele acreditou no que eu dizia e disse-me:
— Coloca-me no lugar certo e salta tu o
arroio.
Eu o pus bem diante do pilar e, dando
um salto, pus-me detrás do poste, como quem espera a investida de touro, e
disse-lhe:
—Vai firme! Salta tudo o que puderes,
para que transponhas bem a água.
Mal acabara de falar, o pobre cego alternou
nas pernas como um bode e, dando um passo para trás, para tornar maior o salto,
projetou-se com toda a sua força de arremesso. Bateu com a cabeça no poste e o
choque soou tão forte como se fosse ela uma grande abóbora. Caiu depois, para
trás, meio morto e com a cabeça rachada.
— Como? Cheiraste a linguiça, mas não o
poste? Cheira, cheira! — eu lhe disse.
Deixei-o às mãos de muita gente que
viera em seu socorro e tomei a porta da vila a trote. E, antes que a noite
viesse, dei comigo em Torrijos. Não soube mais o que Deus fez dele e nem
procurei saber.
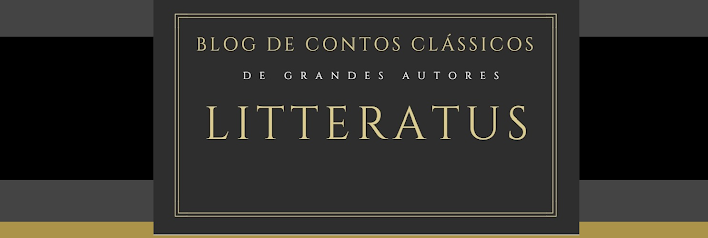











Comentários
Postar um comentário