TORÁ - Conto de Gabriele D’Annunzio
TORÁ
Gabriele D’Annunzio
(1863 – 1938)
Tradução de autor anônimo do séc. XX
Nessa tarde, o Adriático estava violeta, de um violeta sombrio e brilhante, sem ondas brancas, sem velas frementes. Entretanto, havia um enxame de velas sobre a linha extrema do horizonte, de velas retas, agudas, purpureadas pela última flama do Sol, destacando-se sobre o fundo argênteo, sob um bordado móvel de nuvens que pareciam perfis de casas maurescas e de minaretes em fuga.
Torá descia à praia, entre as dunas cobertas de algas marinhas e de destroços impelidos pela borrasca, cantarolando uma canção de Francavilla — uma canção selvagem que não falava de amor. Após cada estrofe, cuja última nota era prolongada ao extremo, ela andava em silêncio algum tempo, a boca entreaberta, absorvendo mistral saturado de ar marinho, escutando o mar murmurante ou o grito de alguma gaivota solitária, que voava na imensidade. Sua cadela a seguia, a cauda baixa, detendo-se para farejar as algas.
— Aqui, Guepe, aqui! — gritava Torá, batendo na sua própria coxa.
E o animal retomava sua carreira sobre a areia, dourada como o seu pelo.
Mas esta voz foi ouvida também por Mingo, que se achava sentado, talhando una cana de pesca perto da sua “paranza”1 encalhada, e seu coração teve um sobressalto, porque os olhos amarelos de Torá, estes olhos redondos de peixe morto, havia com um olhar o traspassado certa manhã. Ah! Essa manhã! Ele lembrava-se: Ela pescava conchas, alta e esguia, as pernas imergidas na água verde, picada de centelhas de ouro, em pleno sol... Ele passou justamente por lá, no seu navio, e os pescadores cumprimentaram-no. Torá o olhou sem abrigar os olhos com a mão. Quem sabe se, em seguida, ela seguiu a ponta vermelha desta embarcação que ia perder-se no alto mar, soprada pelo vento?!
—Aqui, Guepe, aqui! — repetiu uma voz alegre, retumbante, e bem próxima de Torá, entre os latidos da cadela, enquanto Mingo saltava da "paranza", atirando os seus cabelos para trás, com a agilidade de um jaguar amoroso.
— Onde vai você, Torá? — perguntou, e o seu rosto parecia ser uma papoula selvagem
Torá não respondeu. Nem tampouco pouco se deteve. Ele a seguiu, abaixando a cabeça, com o coração batendo fortemente, a garganta estrangulada por uma onda de palavras ardentes, escutando a canção interrompida, sentindo-se perturbado por certas notas esquisitas atiradas subitamente, como o ruído das vagas entre o burburinho monótono do mar.
No bosque de pinheiros, Torá parou; uma rajada de odor penetrante, fresca e sã, passou-lhe pelo rosto com os últimos reflexos crepusculares que se filtravam através dos ramos.
—Torá!…
—Que quer você?
—Quero dizer-lhe que, à noite, vejo sempre os seus olhos e não posso dormir…
Havia nas palavras do rapaz um acento de paixão tão salvagem, e no seu olhar um clarão tão desesperado, que Torá estremeceu.
— É bom! É bom! — disse ela.
Depois partiu, para logo perder-se nas sinuosidades do bosque, seguida da cadela vermelha.
Mingo escutou ainda os latidos desta embaixo, enquanto que olhava tristemente no horizonte a “paranza”, que se imergia pouco a pouco na sombra.
*
Entretanto, Torá não era bela; não tinha mais que duas pupilas amarelas, algumas vezes esverdeadas, imóveis no branco nacarado dos olhos, fascinadoras; cabelos curtos, frisados, de cor de folha seca que a luz animava com reflexos metálicos.
Era só no mundo, só com esta cadela faminta como um chacal, só com as suas canções e o seu mar.
Passava todas as manhãs nessa praia, pescando conchas. E ainda aí estava quando as vagas montantes escumavam em torno dela, salpicando sua saia curta, enquanto as gaivotas, sentindo a aproximação da tempestade, turbilhonavam em cima de sua cabeça. Após a pesca, ela conduzia os perus à pastagem através dos prados e choupanas, cantando “stornelli”, quando não fazia longos discursos a Guepe, que pacientemente a escutava, sentada sobre as patas traseiras.
Ela não era triste, entretanto. Seus cantos tinham uma monotonia melancólica, ritmos bizarros, que faziam pensar nos mágicos do Egito; mas ela os dizia com certa inconsciência, como se nada vibrasse em seus ouvidos e na sua alma; dizia-os olhando uma nuvem, uma vela, os olhos muito abertos, um pouco admirados, enquanto mergulhava sua pequena rede na areia, sem nunca se cansar.
Porém, numa tarde de agosto, em que tinha ido ao bosque com seu rebanho de perus, em busca de sombra, aí encontrou o amor.
Estava apoiada num tronco de árvore, as pálpebras pesadas de sono, os olhos cheios de reflexos confusos. Os perus passavam em volta, metendo suas cabeças malhadas na relva borbulhante de insetos, e dois dentre eles se tinham empoleirado numa moita de murta. O vento soprava sobre as cúpulas verdes, segredando; e, ao longe, estendia-se a praia ardente e a linha azul do mar coberta de velas.
Não longe dela, Mingo se escondia entre os troncos serrados. Aproximou-se pouco a pouco, retendo a respiração. Aproximou-se… Aproximou-se… Sua feiticeira estava adormecida agora, em pé, agarrada ao tronco dessecado.
—Torá !...
Ela estremeceu, voltou-se, abriu seus dois olhos redondos, cheios de terror.
— Torá !…
— Que quer você?
— Quero dizer-lhe que, à noite, vejo sempre os seus olhos e não posso dormir…
Então, talvez compreendesse ela. Abaixou a cabeça, parecendo escutar ou procurar alguma coisa na sua lembrança. Ela já havia ouvido estas palavras em outra ocasião, não se lembrava mais onde, mas ela as havia escutado, e era a mesma voz… Levantou a cabeça. O marinheiro estava diante dela, como que enfeitiçado, o rosto em fogo, os lábios convulsos, jovem e forte. O vento trazia bufaradas perfumadas de ervas selvagens e, através dos troncos torcidos dos pinheiros, o Adriático não era senão uma cintilação de centelhas.
— Olá, Mingo! — bradou uma voz dura, ao longe.
Ele estremeceu, tomou a mão de Torá, apertou-a com todas as suas forças, depois se pôs a correr sobre a areia como um louco, dirigindo-se para a “paranza”, que o esperava, balançando-se na água.
— Mingo! — murmurou Torá com uma entonação estranha, fixando seus olhos de ouro sobre a embarcarão que se afastava.
Suas companheiras cantavam, elas também: mas eram muitas vezes dominadas por um sentimento de espanto, de solidão, de agonia, diante dessas notas, diante dessa voz; calavam-se e abaixavam sua cabeça queimada pela canícula, sentindo a frieza da água nos joelhos, o deslumbramento doloroso da água incendiada em seus olhos e a lassitude de seus braços, enquanto a cantilena de Torá ia perder-se na densidade preguiçosa da atmosfera, como uma maldição, como um soluço.
*
As palavras e os olhares de Mingo perturbaram-na um instante; ela não tinha compreendido. Entretanto, sentia muito ao fundo do coração uma vaga inquietude, sentia quase cólera por este homem de dentes brancos e lábios espessos.
Deteve-se nos últimos pinheiros, chamou sua cadela e acariciou seu pelo rude. Quando se ergueu, havia-se tornado fria e serena.
Pôs-se a rir como uma criança. Na volta, cantava uma canção alegre ao ritmo da tarantela, tangendo, diante de si, como seu longo caniço, os perus saciados, enquanto o Sol se escondia soluçante por detrás de Montecorno, entre as nuvens batidas pelo vento do Sudoeste.
*
Mas, com o vento, a borrasca veio durante a noite e o mar subiu até as casas, com urros de fazer arrepiar. Todas as pessoas pobres ficaram em suas cabanas, escutando o vendaval e rezando, pelos pescadores, à Virgem muito santa.
Só, Torá vagava nas trevas como um cabrito, a cabeça baixa, investigando os mares com seus olhos redondos cheios de agonia, estendendo os ouvidos para escutar se alguns gritos humanos não viriam até ela. Nada. No tumulto dos elementos em fúria, não se escutava senão os latidos roucos de Guepe, perdidos lá embaixo, muito longe. Deus sabe onde!
E ela se aproximava, e ela se aproximava do mar, deslumbrada pelos clarões que descobriam uma grande extensão de água turbilhonante, grande pedaço de praia deserta. Ela aproximou-se muito, uma onda a arrebatou, e a derrubou; uma outra passou sobre ela, deslizando em suas veias um frio mortal, enquanto que, tornada feroz por um instinto de conservação, ela se torcia desesperadamente como um delfim prisioneiro, lutando contra a água que a perseguia, e enchia de amargura a sua boca aberta pelos urros…
Ao fim, pôde levantar-se sobre os joelhos, furtar-se à cólera da tempestade: e entrou na tenda encharcada, gelada, os dentes serrados, louca de medo e de amor.
*
Pela manhã, o Adriático estava calmo, sem uma embarcação, mudo implacável, cruel... Torá acreditou sair das agonias de um pesadelo; experimentou uma nova sensação de soledade, de inquietude, o pavor da sombra. Depois, nos seus grandes olhos amarelos, voltou seu olhar imóvel de peixe morto.
Em seguida, ela vai fatigar os braços, gelar os pés n'água, e queimar o crânio ao sol; suas cantilenas continuam a flutuar no espaço esplêndido e triste, chorando um morto, penetrando no coração de toda essa miserável gente que suspira depois de um pedaço de pão, sem esperança, sem consolo, sem repouso, enquanto que em voo as gaivotas passam e repassam, lançando gritos de liberdade aos céus tempestuosos ou serenos.
Fonte: “Vamos Ler/RJ, edição de 18 de julho de 1940.
Imagem: William-Adolphe Bouguereau (1825 – 1905).
Nota:
1Balandra: embarcação de um único mastro e dotada de coberta.
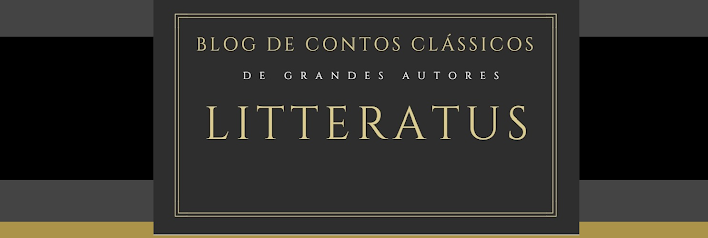





Comentários
Postar um comentário