A TESTEMUNHA - Conto de Frédéric Boutet
A
TESTEMUNHA
Frédéric
Boutet
(1874
– 1941)
Amigo
sincero de Philippe Harlay, eu era dos poucos que não o invejavam. Ao contrário,
notava com prazer as sucessivas etapas de sua rápida e brilhante carreira
administrativa, embora não a atribuísse apenas a seus méritos pessoais.
Felizmente, os méritos, que eram muitos e grandes, tinham-lhe permitido fazer
boa figura nos vários cargos e incumbências de alto relevo para as quais tinha
sido indicado, de modo a alcançar, em pouco mais de quinze anos, situação que
outros só atingem com meio século de esforços.
Era
o mais moço dos diretores gerais da Universidade e tinha seu nome aureolado
pelo desempenho de missões altamente honrosas, porque figurava com
impressionante regularidade em todas as comissões nas quais um sábio pode demonstrar
altas capacidades. Era tão constante a escolha de seu nome para todos lugares
de destaque que Philippe acabara por ganhar, entre os colegas, fama assaz
desagradável. Os mais amargos acusavam-no de ser um intrigante hábil, inexcedível
na arte de estar bem com todos os governos. Os menos venenosos preferiam
afirmar que ele tinha por trás de si alguma influência poderosa, que o protegia.
Eu
mesmo não estava longe de acreditar essa última versão. Afinal, Philippe era um
rapaz com admirável cultura, mentalidade vigorosa, mas não suficiente para
justificar tantas e tão rápidas promoções... Cheguei a me interessar pela
indiscreta investigação, que alguns "amigos" empreenderam, em busca
da "influência" que tão favoravelmente velava por Philippe. Mas nada
foi encontrado. Ele tinha uma vida de anacoreta, sem relações com pessoas
capazes de ampará-lo junto ao governo, e, também, não lhe conheciam parentes
com importância para recomendá-lo... De resto, os ministérios se sucediam
variados e ele continuava a ser o preferido para tudo quanto era proveitoso, do
ponto de vista material e moral.
Nessa
manhã, lendo nos jornais a notícia de sua nomeação para representar a França no
Congresso de Jurisconsultos, a se reunir em Washington, corri à sua casa para
felicitá-lo. Philippe ainda não tinha lido os jornais e soube a notícia por
mim. Estranhei essa ignorância e ainda mais a expressão de aborrecimento,
pode-se mesmo dizer de irritação, com que a recebeu.
Há
coisas que ninguém pode fingir. A surpresa de Philippe não era simulada e,
também, me pareceu sincero o mau-humor com que ele se ergueu da cadeira e
começou a passear pelo gabinete, contraindo a fronte e as mãos com vigor; tão
sincero que, cego pela cólera, ele se abriu pela primeira vez comigo.
—Mas será possível que eu não me liberte dessa
proteção infame! — exclamou, dando um murro na mesa. Minha estupefação foi
tamanha que guardei silêncio. Ele sentou-se de novo, acabrunhado e disse:
—Você não imagina o inferno que é minha vida
com essa intervenção incessante de um miserável, que se julga obrigado a me ser
grato.
E
como meu olhar denunciava incompreensão absoluta, explicou:
—É Felinier.
—O banqueiro.
—Banqueiro,
milionário, senador, homem onipotente, que tem quase todos os políticos na
gaveta, como se costuma dizer.
—Mas você o conhece. Nunca me constou que...
—Fujo
dele o mais que posso. Não o procuro. Na última vez em que o vi, tratei-o tão
grosseiramente que ele também nunca mais me procurou. Mas continua com a mania
de me auxiliar.
—Por quê?
—Por uma coisa estúpida, horrível, em que eu
não tive culpa... Isso é, em parte fui culpado, mas não para ser castigado
assim.
—
Mas santo Deus!... Que foi o que você fez?
—Você
é mais ou menos de minha idade, não pode se lembrar de uma coisa que aconteceu
quando éramos ainda crianças. Mas, na época, os jornais falaram longamente:
Felinier foi acusado de um crime, um assassinato covarde, traiçoeiro. O caso se
revestia de mistério e havia uma única testemunha: um garoto de doze anos. Eu.
— Ah!
—
Meu pai tinha sido nomeado diretor da alfândega em uma colônia da Ásia e, como
era viúvo, deixou-me com a família de um irmão casado. Eu passava a maior parte
do ano em Paris, como interno, num colégio. Nas férias, ia para a propriedade
de meu tio, na Bretanha. Meus tios gostavam de mim, mas tinham ideias rígidas,
autoritárias, sobre educação e me mantinham num regime severo. Ora, naquele ano,
eu tivera a infelicidade de ser reprovado em duas matérias. Imagina o que foram
minhas férias! Sermões, ameaças, privação dos banhos de mar e estudos
constantes.
—Mas que tem Felinier com isso?
—Vou
dizer. Havia, em torno da casa de meu tio, um parque que confinava, de um lado,
com a enorme propriedade do Sr. Levain, um multimilionário viúvo e sem filhos.
Seu único parente era um neto — Felinier — que contava já vinte e seis anos e,
tendo esbanjado seu patrimônio, e não dispondo de preparo para qualquer
trabalho, ficara reduzido a viver do que o avô lhe dava. Ora, a despeito de sua
imensa fortuna, o sr. Lovain não era generoso. Pagara as dívidas de Felinier,
porém mantinha-o ali, naquele recanto deserto da Bretanha, sem uma distração e
sem vintém, como um prisioneiro. E ele não se atrevia a partir, porque o avô
ameaçara de riscá-lo de seu testamento, se tal fizesse.
Havia,
próximo à cerca que dividia as duas propriedades, um pavilhão no qual meu tio
me obrigava a ficar duas a três horas, todos os dias, sozinho, para estudar. Dali,
eu tinha como panorama um relvado do parque vizinho. Nesse relvado, vi, duas
vezes, o Sr. Levain, um octogenário horrendo, que passeava devagar, com as mãos
para as costas e Felinier, que, quase todos os dias e, também, sozinho,
vagueava, como uma alma penada, ao longo da cerca. Um dia, deteve-se, olhando
para mim e vendo-me naturalmente triste, diante de um pacote de livros,
perguntou:
—De castigo hein? E aborrecido, é claro. Eu
também. Mas isso não há de durar sempre.
Poucos
dias depois, ouviu-se um tiro. O jardineiro da casa do Sr. Levain acudiu ao
estampido e encontrou o milionário caído no relvado, morto, com uma bala na
cabeça e um revólver junto de sua mão direita.
Alarme,
polícia, inquérito. Suicídio? Crime? O velho era doente, neurastênico, mas
nunca falara em se matar. Não havia na
coronha do revólver impressões digitais que não fossem do morto. Mas o
assassino podia estar de luvas e ter apertado a mão de sua vítima sobre a arma.
Quem
tinha interesse na morte de Levain? Seu neto, herdeiro único de sua fortuna.
Onde estava ele, na hora em que o tiro fora ouvido? Dizia estar passeando no
outro extremo do parque, mas não podia prová-lo. Ninguém o vira nesse momento.
O jardineiro, o primeiro a chegar ao local, não vira pessoa alguma fugindo por
entre as árvores.
Felinier
foi preso. Mas a polícia não tinha também meios para provar sua culpa. Então,
meu tio se lembrou de que, naquela hora, eu estava no pavilhão, estudando e
interrogou-me.
—Você
viu alguém matar aquele pobre homem?
—Não,
senhor.
—Mas
do pavilhão você vê a relvado, deve ter ouvido o tiro.
—Estava
estudando... Quando olhei, só vi o velho, caído...
—
Não viu ninguém junto dele ou fugindo?
—Não,
senhor.
Tive
que repetir esse depoimento diante do juiz de instrução. Felinier foi posto em
liberdade, entrou na posse de uma fortuna gigantesca e até hoje me persegue com
uma gratidão insultante, porque, não tenho dúvidas, estou convencido de que foi
ele o assassino.
—Mas
então por que o inocentou? Por simpatia, por?...
—Não.
Eu não estava no pavilhão. Estava na beira do rio, tentando apanhar peixes, com
uma lata. De modo que, de fato, não assisti ao crime. Mas não podia dizer isto
a meu tio...
Tradução de autor
desconhecido.
Fontes: “Gran-fina”
(Curitiba/PR), edição de 1ª de fevereiro de 1941; “Correio Paulistano”, edição
de 21 de março de 1941.
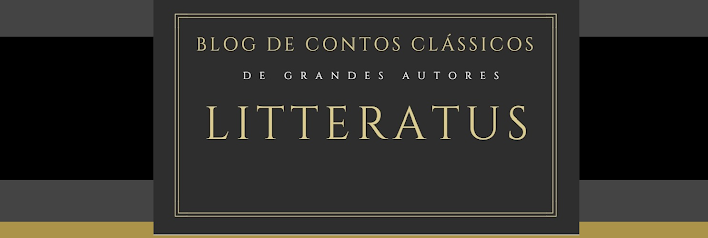





Comentários
Postar um comentário