OS SINOS - Conto Trágico de Gabriele D'Annunzio
OS SINOS
Por
Gabriele D'Annunzio
(1863
– 1938)
A
Biasce, o mês de março se caracterizou por lhe trazer o mal do amor. Fazia já
duas ou três noites que não lograva cerrar os olhos. Sentia por todo o seu
corpo ardores como se, de um momento para outro, lhe fossem surgir através da
pele um punhado de espinhos de rosas silvestres. Até o fundo da sua água
furtada chegava um odor novíssimo, fresco e áspero que ascendia das plantas
rasteiras e das amendoeiras em flor...
Por
Santa Barbara protetora!... Precisamente apoiada em um amendoeiro em flor havia
visto, pela última vez, Zolfina,
enquanto ela contemplava uma barca em alto mar. Sobre sua cabeça luzia
alegremente uma alvura embalsamada que rumorejava sob o sol e, em torno dela,
via-se a azulada florescência de onda de linho. Seus olhos brilhavam como duas
gotas de orvalho e, sem dúvida, em seu coração havia a carícia das flores.
Deitado
em sua tarimba, Biasce, enlouquecido, pensava nesse mundo de luzes, nesse
transbordamento primaveril da vida. E, já ao longe, na linha externa do
Adriático, se iluminava com as primeiras claridades do alvorecer, quando se
levantou, ascendendo pelos degraus de madeira gasta até os ninhos das
andorinhas, sobre o telhado do campanário.
Flutuavam
no ar vozes estranhas, confusas, semelhantes a um palpitar furtivo, à leve
respiração de um cão, ao roçagar das folhas, ao rumor das ondas que se
quebravam e se espargiam pela areia alva da praia. As vivendas cerradas dormiam
ainda. Havia já alvura, embora semiadormecida, sob véus de neblinas
transparentes. Aqui e ali, sobre esse
lago estancado, as arvores balançavam com a brisa. Ao fundo, as colinas
violáceas trocavam, longinquamente, seus matizes por outros mais ternos;
confundiam-se no horizonte cinzento. Em frente estava o mar. Luzente e
brilhante como uma fita fosforescente com alguma vela turvada pela penumbra. E
sobre tudo reinava a fresca e diáfana serenidade do firmamento, onde as
estrelas empalideciam uma a uma.
Os
três sinos imóveis, com seus ventres ocos de bronze sulcados de arabescos,
aguardavam que os braços de Biasce os impulsionasse para lançarem suas
vibrações triunfais na brisa matutina.
Biasce
pegou as cordas. Ao primeiro puxão, o sino maior, a "Loba", pareceu
estremecer profundamente. Sua ampla boca se abriu, fingiu cerrar-se de novo,
abriu-se mais uma vez... Uma ondulação de sons metálicos, seguida por uma
espécie de mugido profundo, salpicou os tetos, viajou ao vento por toda a planície.
E o movimento continuava, continuava... O bronze se animava, parecia um monstro
enlouquecido de cólera ou de amor, oscilando espantosamente da esquerda para a
direita, mostrando sua mandíbula, alternadamente aos dois lados, emitindo notas
profundas e prolongadas, reunidas por um rumor incessante, rompendo de
improviso o ritmo, apressurando seu vai e vem até fundir-se em um tremor de
cristalina harmonia, prolongando-se solenemente no espaço. Mais abaixo, as
ondas de sons e as crescentes ondas de luz aumentavam o sonho da campina. A
neblina trocava-se em fumo, dourava-se ao ascender, dissolvia-se lentamente sob
a claridade matinal. As colinas tomavam a cor de cobre. De improviso,
escutou-se outro timbre sonoro. O carrilhão da “Estrige”, áspero e rouco,
surgiu, parecendo um animal colérico junto de uma fera. E imediatamente
escutou-se o martelar rápido da "Cantora", um martelar alegre, límpido
e ágil, teimoso, semelhante a uma granizada sobre uma cúpula de cristal. Mais
para lá adivinhava-se os ecos dos outros campanários. O de São Roque, muito ao
longe, avermelhado e semiescondido entre as árvores; o de Santa Teresa, um
enorme pão de açúcar colado; o de São Franco; o do convento...; dez, quinze
vozes metálicas que corriam sobre os campos nas variações jubilosas e sãs do
hino dominical em meio de uma luz triunfante.
A Biase embriagava essa sonoridade. Agradava
ver-se esse rapaz ossudo e nervoso, cicatriz sobre a testa, sacudir arquejante
seus braços, agarrar-se às cordas como um mono, deixar-se arrastar pela força
irresistível de sua querida "Loba", trepar até o lugar onde se
assentava a "Cantora", para misturar seu bulício ao estremecimento
ensurdecido dos outros monstros dominados.
Ali
em cima era o rei. Escalava o muro de pedra espessa e descascada com impulso juvenil;
retorcia-se ao redor das vigas do teto como em torno de troncos viventes;
corria pelos ladrilhos vermelhos com suas alpercatas de couro com brilhos de
esmalte; descia das cobertas com a atividade de um fino réptil; tomava de
assalto as telhas cobertas de ninhos, de ninhos velhos e novos, povoados já por
um pobre gorjeio de andorinhas enamoradas. Ao pobre Biasce chamavam louco.
Porém, no alto, ele era rei, era poeta. Quando o céu sereno se curvava sobre a
campina florida, quando o Adriático se coloria com os olhos do sol e os velames
de cor das laranjas, quando o trabalho formigava nas ruas, Biasce permanecia
nas alturas de seu campanário como um falcão selvagem, inativo, a orelha
apoiada contra o flanco da "Loba", da besta terrível e soberba que um
dia lhe havia quebrado o frontal. De tanto em tanto, golpeava-a com os nós da
mão para escutar suas largas e deliciosas vibrações. Muito perto dele, a
"Cantora" reluzia como uma joia, vestida com cifras e arabescos,
mostrando, em relevo, a imagem de Santo Antônio. Mais para lá, a
"Estrige" mostrava seu velho ventre sulcado em toda a longitude por
uma fenda e com seus bordos partidos.
Quantos
sonhos voavam sobre essas campanas; que vagabundear de ilusões estranhas;
quantos impulsos líricos de paixão e desejo! E como era bela e gentil a imagem
de Zolfina, que surgia desse mar de ondas sonoras nas melodias inflamadas que
se desvaneciam no crepúsculo, quando a "Loba", subitamente
melancólica, espaçava seu tanger até morrer de languidez.
*
Uma
tarde, encontraram-se na pradaria, atrás das nogueiras de Mouna, sob um céu de
opala no zênite e cheio de malva no poente. Cantarolava ela enquanto ceifava
ervas para a vaca em transe de ter a cria. O perfume da primavera se lhe subia
à cabeça e lhe dava vertigens, como o doce vapor do vinho de outubro. Quando se
inclinava seu próprio hálito roçava às vezes a carne desnuda, suavemente, como
carícia. E o prazer o obrigava a
entrecerrar os olhos.
Biasce
aproximava-se balanceando-se, com o gorro caído para trás, e um ramalhete de
arruda preso à orelha. Não era feio, Biasce. Tinha grandes olhos negros, cheios
de uma tristeza selvagem, de unia espécie de nostalgia que recordavam os olhos
das feras cativas. Ademais, sua voz possuía um encanto, um encanto profundo que
não parecia humano. Sua voz não conhecia modulações, nem branduras; e no alto,
em companhia de seus sinos, ao ar livre, em meio de luz irresistível, em pé na
solidão, havia aprendido uma linguagem plena de sonoridades, de notas
metálicas, de imprevistas asperezas, de guturais profundidades.
—
Que fazes, Zolfina?
—Estou
cortando feno para a vaca de tio Miguel. Isso é o que faço — respondeu a moça
loura que, com o colo palpitante, permanecia curvada para continuar a sua
colheita.
—Zolfina, sentes o aroma, este agradável aroma?...
Estava no teto do campanário, mirava as barcas que a brisa marinha impulsionava
águas adentro e tu passaste cantando...
Deteve-se,
pois sentiu, de improviso, que se lhe oprimia o peito. E ambos calaram para
escutar o rumor interminável das nogueiras e o murmúrio do mar distante.
Biasce,
polidíssimo, terminou por inclinar-se, também, sobre a erva. E, em meio dessa
voluptuosa frescura vegetal, suas mãos ávidas buscaram as mãos de Zolpina, que,
de pronto, havia se transformado de enrubescida para abrasada.
Dois
esbeltos lagartos enamorados sulcaram o prado como flechas e desapareceram
entre as brenhas dos caminhos.
—Queres
que te ajude? — disse ele, bruscamente.
—Deixa-me!
— sussurrou a pobre jovem com voz desfalecente. — Deixa-me, Biasce!
E
depois, apertou-se contra ele, deixou-se beijar, e devolveu seus beijos. E
dizendo-lhe “não! não!”, ofereceu-lhe seus lábios, dois lábios rubros e úmidos
como as cerejas maduras.
Seu
amor crescia como o feno. E o feno subia, subia como uma onda. Em meio desse
verde mar, Zolfina, erguida, com um lenço vermelho desnudando o colo, parecia
uma luxuriosa papoula. Que incontida alegria musical povoava as baixas fileiras
de macieiras e amoreiras, e na mata carregada de nespereiras a madressilvas,
nos campos amarelecidos de malmequeres em flor, enquanto, à distância, em Santo
Antônio, a "Cantora" repicava com tão jubilosos sons que se podia
crer uma rolinha enamorada.
Porém,
uma manhã, quando Biance aguardava na Fontana, com um formoso ramo de arrudas,
recém-cortadas, Zolfina não acudiu ao encontro. Estava doente, enfermada de varíola.
Pobre
Biasce! Quando o soube, sentiu que o sangue se lhe gelava nas veias e esteve
mais acerca de cair do que na noite em que a "Loba" lhe partira a
cabeça. Sem embargo, devia trepar ao campanário e romper os braços, tirando das
cordas — ele, em cujo coração se aninhava a desesperança — em meio do confuso
rumor de um Domingo de Ramos, em meio de insultante alegria do sol, rodeado de
ramos de oliveira, de telas luxuosas, de nuvens de incenso, de cânticos, de
romarias, enquanto sua pobre Zolfina, quem sabe que terríveis tormentos... Oh,
Virgem bendita, quem sabe que terríveis torturas!...
Transcorreram
dias espantosos. À hora em que começavam a cair as trevas, Biasce rondava pelas
cercanias da casa de sua querida enferma, como um chacal em torno de um
cemitério. Detinha-se sob a janela cerrada sobre a luz interior e, com seus
olhos inchados pelas lágrimas, via passar as sombras sobre os vidros,
procurando escutar, oprimindo-se com a mão ao peito quebrado pela angústia.
Depois, continuava vagando pelos arredores como um louco, e corria, por fim, a
refugiar-se em sua água furtada. Ali passava as intermináveis horas da noite,
ao lodo de seus sinos imóveis, oprimido por sua imensa angústia, mais lívido
que um cadáver. Abaixo, pelas ruas banhadas de luar e de silêncio, nada, nem
uma alma parecia viver. Ante seus olhos, o mar triste e algodonado quebrava-se
com monótono rumor na costa deserta. Sobre ele luzia o azul cruel.
E
longe, sob esse teto que entrevia apenas, Zolfina agonizava, deitada em seu
leito, despida, com seu rosto enegrecido, sulcado por um humor sanguíneo e
purulento. Muda sempre, enquanto a luz da vela empalidecia na brancura
crepuscular e o sussurro das preces estalava de pronto em uma incontida
explosão de soluços. Duas ou três vezes levantou sua cabeça loura, penosamente,
como se houvesse querido de alguma coisa. Porém, as palavras não brotaram de
sua garganta, faltava-lhe o ar e até a luz a abandonava. Tremeram suavemente
seus lábios em um sufocado estertor, como um cordeiro a que sacrificam, e
depois quedou morta.
*
Biasce
foi ver sua pobre amada. Embrutecido, de olhos vítreos, mirou o ataúde
embalsamado de flores frescas sob as quais se estendia a decomposição das
carnes juvenis, essa corrupção de humores já putrefatos sob a alvura do linho.
Admirou, alucinado, um instante, misturado entre a multidão. Saiu depois.
Volveu à sua guarida. Trepou pelos degraus de madeira gasta até o meio. Tomou a
corda da "Cantora". Fez um laço corrediço. Olhou a velha
"Loba", passou seu pescoço e se deixou cair sobre o vazio. As
convulsões do enforcado fizeram com que, através do silencia da semana santa, a
"Cantora" lançasse, em um esplendor luzente, cinco ou seis tangidos inesperados,
argentinos, jubilosos. E um voo de andorinhas resplandeceu sobre o teto banhada
de sol. Biasce também estava morto.
Tradução de autor
desconhecido.
Fonte: “Jornal das
Moças” edição 16 de dezembro de 1943.
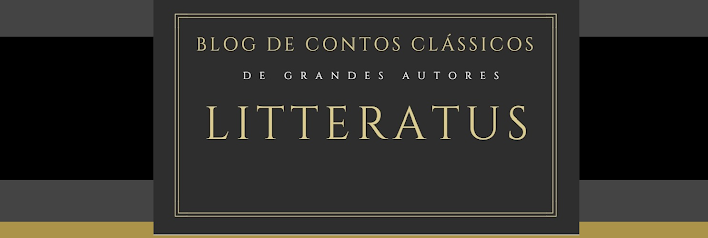





Comentários
Postar um comentário