O VERME - Conto - Abel Juruá
O VERME
Abel Juruá
(Iracema Guimarães Vilella)
(1875 – 1941)
“Meu caro Pedro
Há oito dias que recebi a tua carta e só hoje me decido a responder-te. Nesta, encontrarás as notícias sensacionais por que tanto almejas. Vais pasmar assim como eu pasmei, e considerarás de ti para ti que enlouqueci decerto. Nada disso me melindrará, pois tudo quanto de mim pensares estará sempre aquém do que eu próprio imagino. Nestes últimos meses, houve como que um tufão que estalou dentro do meu ser, me sacudiu e fez apagar a alegria e o bom senso. Com a tua boa e sincera amizade, poderás talvez suavizar a amargura que me comprime, tornando-me impaciente e contraditório.
A minha vida, desde que te deixei, encheu-se de aborrecimentos e de melancolias. A primeira coisa a transtorná-la foi ter ficado noivo, meu amigo, estupidamente e absurdamente noivo! Ei-lo de um trago, assim como quem pega num copo a transbordar de licor belíssimo aos olhos e ao paladar, e o esvazia rapidamente, sem refletir se a bebida lhe será ou não funesta. Com a mesma sofreguidão com que saciei a sede que me torturava, essa sede que parecia sufocar-me se a não satisfizesse, rompi o meu noivado num minuto, um instante rápido e terrível. Tudo se fez em seis meses, e, atordoado, vertiginoso, fugi para Petrópolis, a fim de esquecer-me um pouco desses tormentosos momentos que produziram esta sensação, mais desagradável do que todas as outras: o descontentamento de si mesmo!
A minha noiva chamava-se Aída. Encontrei-a por acaso numa reunião em casa do compadre Sousa. Como sabes, o Sousa é um homem que gosta de alardear a riqueza para ninguém a ignorar ou dela duvidar. Por isso, aproveita todas as ocasiões de a fazer luzir aos olhos gulosos dos amigos. E com isso vai dando emprego ao cabedal, que é dos mais fecundos. Para retribuir o convite amável que me fez, enfronhei-me no meu soberbo smoking e, bem penteado, bem encamisado, bem perfumado, entrei pelo salão a dentro sem outras pretensões além das dos meus sonhadores e vaidosos vinte e cinco anos. O Sousa passeava de um lado para outro a rotundez do seu ventre satisfeito, e a comadre, nédia e grisalha, comprimindo as abundantes carnes nos pregueados luzidios de um vestido cor de ouro, enfeitado a galões avermelhados, espalhava pelas cadeiras e pelos sofás o sorriso embevecido de quem está pouco habituada a esse gênero de festas. Vagueando o olhar passivo por tudo aquilo, esgueirei-me para o terraço, a fim de acender o charuto que já me pesava no bolso. Mas, tão depressa busquei o refúgio corporal, e também espiritual, eis que embarafusta por ali dentro a boa da comadre soprando como um touro em tardes ardentes de torneio…
—Oh, compadre, vai fugindo assim da gente! Que é isso? Que lhe sucedeu? —perguntou admirada.
— Nada, comadre, estou fazendo reflexões sobre a vida… — respondi com o charuto na mão.
Uma estrondosa gargalhada abalou-lhe o peito, que se agitou em contrações violentas:
—Ora, compadre, isso é pilhéria! — retrucou a bondosa senhora.— Pensar na vida a estas horas, e no meio de tanta música e tanta gente? Venha ver as moças, que terá mais proveito. Aqui vem uma linda a valer! Hum! Esta!… — acrescentou num gritinho amável.
Olhei, interessado. Uma figura radiosa de mocidade e de beleza aproximava-se a sorrir.
— Aída — volveu logo a comadre—, venha distrair aqui o compadre Waldemar. Ele é padrinho do meu Joãozinho e anda tristonho sem saber, por quê... Só você conseguirá talvez dar-lhe alegria…
Em pé, um tanto confuso, eu inclinara-me para a moça que me estendia a mãozinha delicada, enquanto a comadre afastava-se rebolando os anafados quadris. Ficamo sós alguns minutos; mas a minha emoção era tão inesperada que me impedia de falar. Aída abanava-se com movimentos contrafeitos, enquanto nas suas faces coradas e finas o rubor se acentuava cada vez mais. Para disfarçar aquele enleio, e lembrando-me que antes de mais nada sou homem da sociedade, afeito como soldado valente ao fogo da metralha explodida pelas perigosas pupilas femininas, pus-me a dissertar sobre pequenas banalidades, dessas que se dizem quando não há nada a dizer. E, após divagações vagas e inúteis, a voz resvalou — naturalmente — para o amor. A moça sorria e poucas palavras pronunciava. A sua candura sensibilizou-me, e tão encantado fiquei que a não a deixei mais… A sua elegância ondulante, com uma pontinha de languidez, fazia-a assemelhar a uma ninfa adornada com apetrechos civilizados, e o cabelo curto, ondeado com arte e graça, enfeixava-lhe a cabeça realçada pelo crepe transparente do vestido branco, onde apareciam de longe em longe reflexos de fitas, recantos delicados de rendas, nesgas finas de sedas… Ela sorria para tudo que eu balbuciava sobressaltado e entusiasta, e até ao fim da noite a minha sombra apaixonada perseguiu-a como o fantasma da vingança, ou a garra autoritária do amor… E depois disto… ficamos noivos. Os pais de Aída recebiam-me com louvores exagerados e uma sequência langorosa de hosanas contínuas. O tempo passava e eu, como um ídolo enfastiado, continuava a receber, do alto do meu trono glorioso, as litanias devotas dos mortais embevecidos. Aída falava pouco, mas sorria muito, sem cessar, como um dever, uma exigência de sua natureza suavíssima e timorata.
Um dia, porém, sem eu saber por quê, nem analisar a razão do sentimento que me guiava, senti-me saciado daquele sorriso estampado numa continuidade passiva, sem reprimir ou modificar a sua expressão beatífica. Era o sorriso vassalo, pregado com humildade naqueles lábios rosados e quase emudecidos. Senti-me saciado, meu amigo, tão brutal e formidavelmente saciado que, sem explicar a mim mesmo, nem a ela, a rebeldia do meu gesto, não fui mais em sua casa, conforme prometera e era esperado. Nos dias seguintes, em lugar de corrigir a minha ação descortês, fiz o mesmo, e durante muito tempo continuei a fazer o mesmo. Minha comadre, que fora a cúmplice daquele amor desabrochado às pressas sob o clarão fictício de uma luz artificial, procurou-me aflita, tentando introduzir à força, dentro de minha alma, com o martelo persuasivo da razão, os deveres impostos pela situação que por minha vontade eu me criara. Foi debalde, foi tudo debalde. O sorriso de Aída, esse sorriso incolor, insincero, sorriso de gravura que dá ímpetos de esfacelar com mão enfurecida, fixava-se na minha memória, irritante, imutável. Não resisti mais e, num minuto de fadiga moral em que os fatos são enegrecidos pela potência da nossa imaginação, rabisquei duas linhas, pedindo-lhe que me perdoasse, mas eu a não amava mais; fora um capricho, um sonho impossível que se esvaíra sem eu mesmo saber como. E então, meu amigo, recebi com pasmo, com assombro, com vergonha dela e de mim mesmo, estas linhas eriçadas de floreios e de letras redondas de colegial que começa com relutância a sua enfadonha aprendizagem:
“Sinto muito que você de repente deixasse de me procurar. Como provavelmente se arrependerá desse passo, estamos esperando-o para jantar conosco no próximo sábado. Não posso crer que não aceite o nosso convite, pois, se eu lhe não tivesse agradado, você não teria decerto vindo, verme.”
Meu caro e complacente Pedro, não esmoreças de ler até ao final; mas, quando aquele “verme” rastejou diante de meus olhos em toda a sua hediondez, a sua perfídia, o seu asqueroso destaque, compreendi que tudo estava perdido para sempre. Homem incorreto, D. Juan de bonitas e traiçoeiras falas, vá; mas classificar-me de verme e um tanto humilhante para o meu amor-próprio. Esse verme corroeu o restante da afeição que, qual lanterna frágil soprada por aragens divergentes, oscilou até se apagar de todo. Na minha frente, distingui logo o sorriso apático, o irritante e insuportável sorriso, e a boca, que eu quisera ouvir pronunciando frases apaixonadas, abrir-se apenas automaticamente, servilmente, babosamente, para dizer-me naquele tom desgracioso e monótono:
‘Se você não me amava, para que veio, verme?’
Não pude suportar aquele horror, e pegando na pena escrevi depressa, a fim de não escutar a insinuação de arrependimento que poderia querer intervir:
“Impossível voltar a sua casa, ando doente e devo sair quanto antes do Rio. Perdoe-me e esqueça-me. Não sou digno de si”.
Não há justificação mais galanteadora a dar a uma mulher do que convencê-la de que não somos dignos dela. No fundo, apesar da indignação de que ficará possuída, ela julgará sempre que fatos extraordinários nos impedem de nos atirarmos a seus braços divinos. Por que a não pretendi eu mais? Pelo fato racional de não ser digno dela, não merecer, portanto, o seu amor.
E, com terror de Aída querer incutir-me no espírito a certeza da minha perfeição, fugi para aqui de onde te escrevo, desanimado e triste. Conforta-me e conserva-me à tua amizade. Todo teu
Waldemar”.
Fonte: “Revista da Semana”/RJ, edição de 12 de março de 1927.
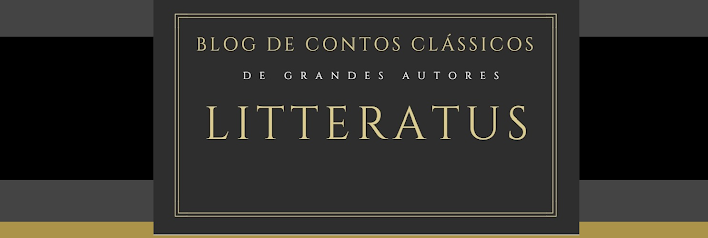





Comentários
Postar um comentário